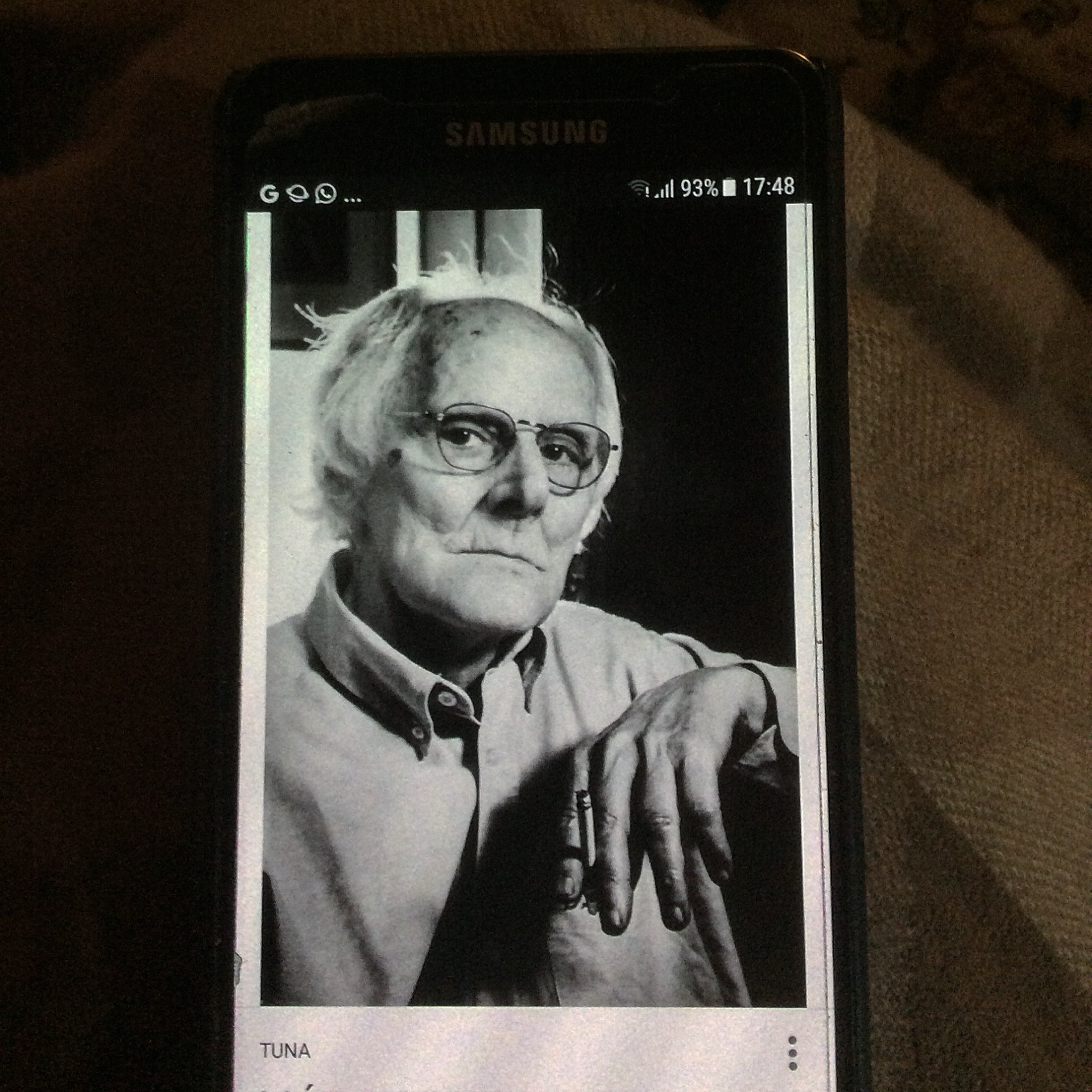MONGINHICES
por Julieta Monginho
escritos, escrituras, escriturices
escritora
AUTORETRATO
Magra, olhos castanhos, cantilena
Herberto na adolescência já madura.
Triste de casta, o mesmo de leitura,
feliz no devaneio, madalena.
Incapaz de fingir, sem dura pena.
Atenta no amor. Justa loucura
de procurar irmãos na rua escura,
de descobrir sinais na voz pequena
Teimosa buscadora de verdades
(digo, de uma só, somada em cento).
Descontente da vida e das cidades.
Eis aquela onde a luz apaga o vento
que a si mesma cobrira de vaidades,
num dia confitado em fogo lento.
Livros publicados
Juízo Perfeito (1996)
A Paixão Segundo os Infiéis (1998)
À Tua Espera (2000)
Dicionário dos Livros Sensíveis (2000)
Onde está J? (2002)
A Construção da Noite (2005)
A Terceira Mãe (2008)
Metade Maior (2012)
Um Muro no Meio do Caminho (2018)
Volta ao Mundo em Vinte Dias e Meio (2021)
Corpo Vegetal (2024)
Prémios
Máxima de Literatura (2000)
PEN narrativa (2018)
Fernando Namora (2018)
Grande Prémio de Romance e Novela APE/DGLAB (2008 e 2021)
Oceanos - Prosa (semifinalista)
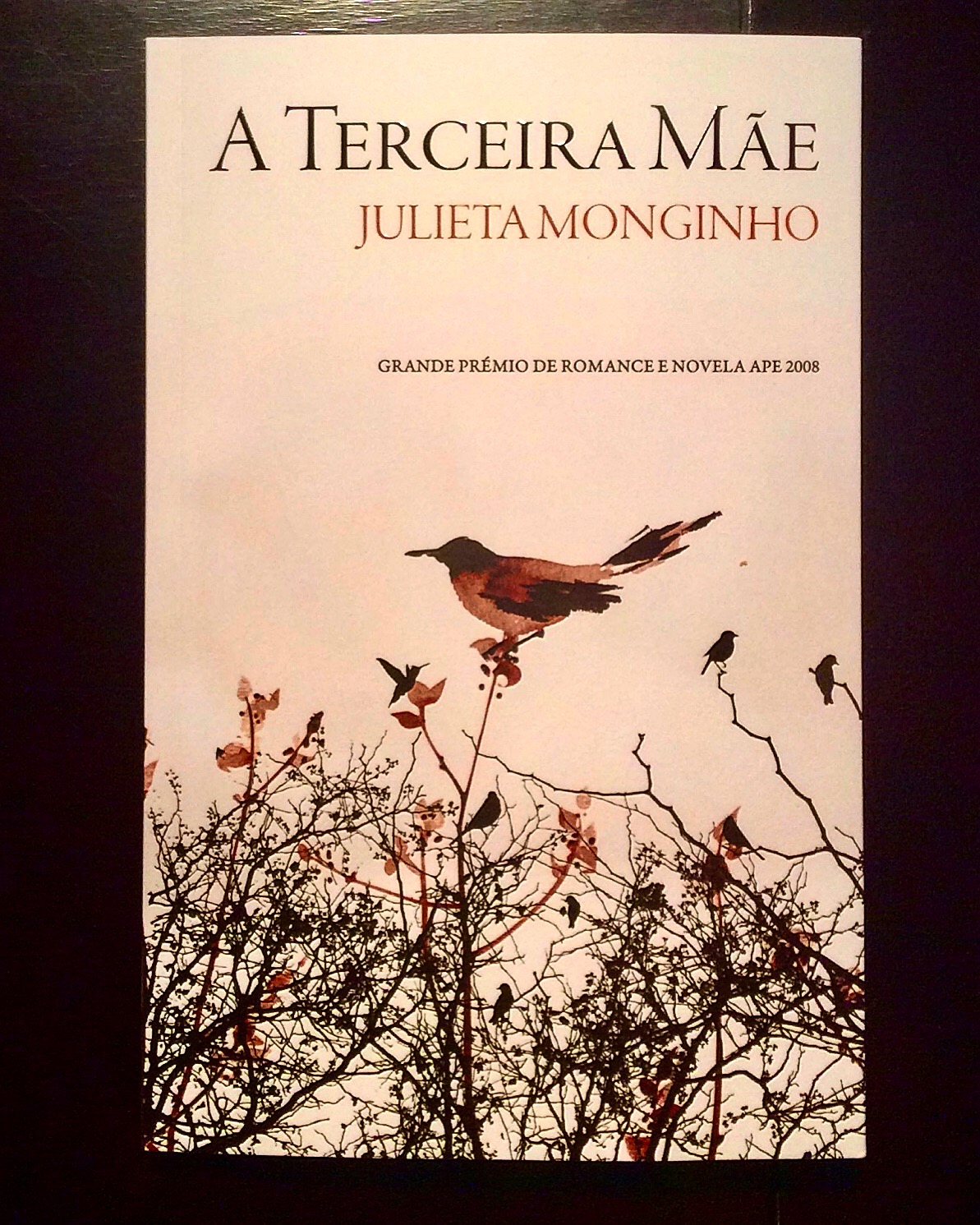
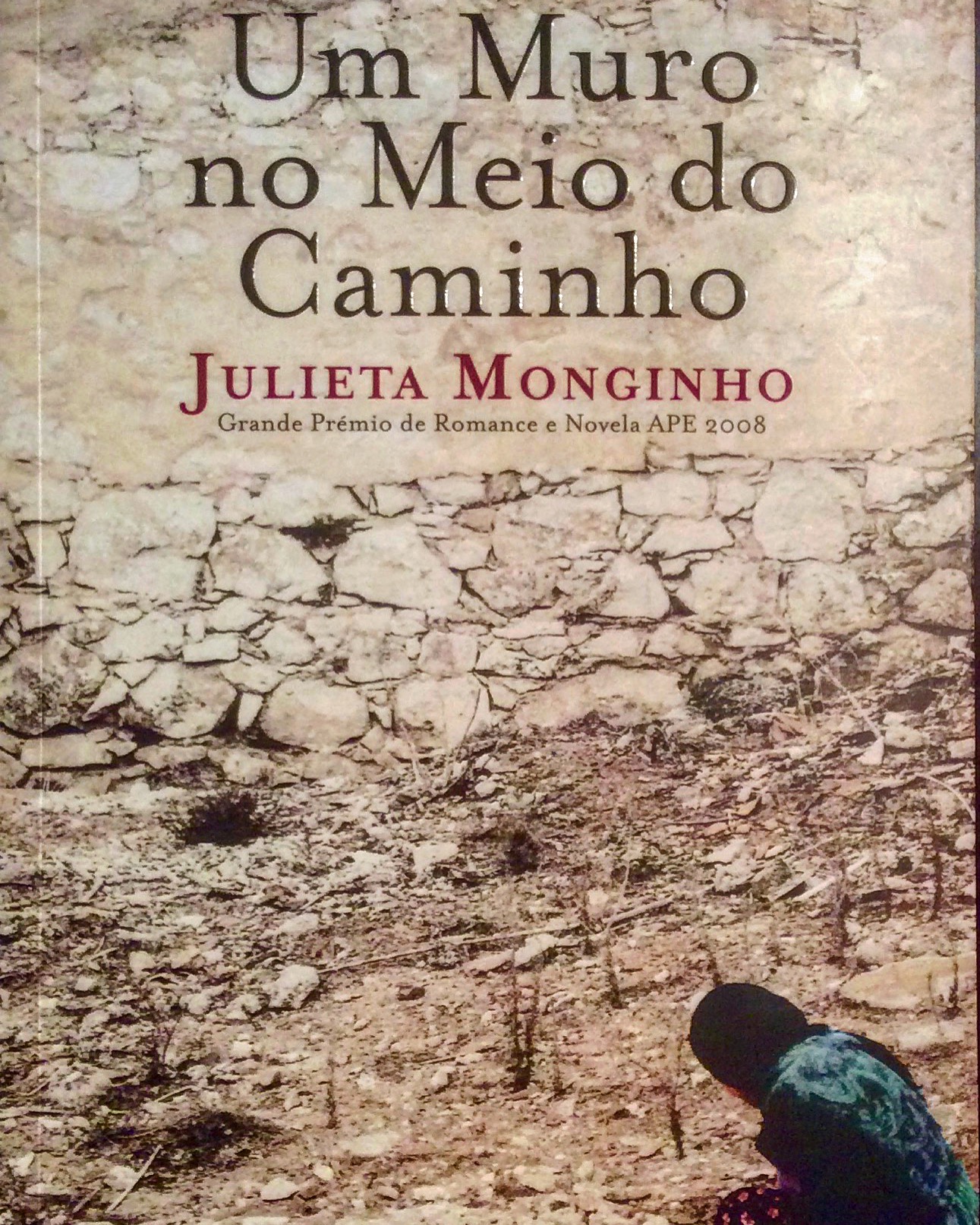


o que é um texto
O texto não se resguarda. O que for grade, o que for muro, o que for tinta a embotar a liberdade das coisas obscuras, interditas ao bom correr dos dias, desaparece quando a a língua escreve.
Um texto não é um funcionário,
Um texto não é a correcção. A língua tem direito a insubordinar-se, a cair das nuvens e a misturar-se com a terra sempre que lhe apeteça.
Um texto não serve para nada, não é servil, não é prepotente, aguarda, com ou sem paciência, que o descubram.
Um texto não obedece. Um texto não segue. Um texto ou rasga ou é rasgado.
A ladainha do texto não é uma oração, nem uma sucessão de regras.
As regras não pertencem ao texto, estão antes e depois.
Não percebo o suficiente do texto – este que sai dos meus dedos – para lhe atribuir um sentido preciso. Mesmo o sentido vago quer escapar. Faz bem. Gosto dele assim.
***
O texto procurar sem parar, interrompe momentos, inquire os intervalos, o que acontece às coisas quando o humano se esconde, o que lhes acontece quando a respiração as altera, ainda que involuntariamente.
***
Esse sopro humano que altera a perspectiva do que não tem vontade. Esse que a si mesmo se altera, pavor provocado pela incerteza de permanecer vivo.
que não se muda já como soía
Quinhentos anos depois, vem sentar-se o poeta à beira-rio e as águas, sendo outras, contêm o sopro gentil das que o viram partir e o das que antes dessas o sonharam.
Confortam-no, as águas repovoadas.
Descalça as sapatilhas, já puídas de calcorrear as ruas pedrulhentas de Lisboa, achando novo engenho, pouca arte acrescida à do tempo passado. Seres em bandos ou a falar sozinhos, aparelhos de voar, vozearias babélicas, nada o espanta, depois das aventuras que de todas as partes e línguas se serviu para criar a língua mais completa, falada no litoral oeste, renovada com sangue e negridão em outras amplitudes.
Estica e encolhe os dedos, os das mãos e os dos pés, roda os tornozelos emperrados, fartíssimos da forçada imobilidade.
- Iam visitar-me os ossos podres em vez de me visitar os versos. Faziam fila, ainda a mastigar não sei que mesquinhas iguarias.
O passeio de um dia feriado, numa Lisboa sem cheiro a peste, sem cheiro a cravos por desmaio da cor escarlate, foi escasso treino para o corpo erguido do túmulo por força da curiosidade. Após descer a Avenida na companhia de muitas mil vozes fraternais, achava-se o poeta à beira-rio, assistindo aos embarques para margens avistadas, casario estendido onde antes o imaginário horizonte apelava à distância.
Deixo-o ficar absorto no modo como as novidades se afastam da esperança, virando para trás e para os lados o olhar. Mal o vejo mexer-se, reconfortando a posição, atiro-lhe a pergunta que me rói desde que li (ou ouvi) pela primeira vez aquele «não sei quê».
- De onde te nasciam os versos, do saber ou do não saber?
De saber que o não saber é mais alto, mais luz, melhor pujança, respondeu. Acreditei. Acredito em tudo o que diz, não tenho outra forma de o ouvir. Mas estranhei a resposta em quem fez dos sentidos avançados suas letras e engendrou uma personagem sabiamente idosa com o propósito de indagar o avesso da glória, alguém que em dias de hoje mostrasse o uso da devastação causada às terras viciosas.
Era o dia 25 de Abril de um ano transtornado pela distância entre séculos que se namoravam um ao outro, ora parecendo curta, ora infinita. Havia quase uma semana que andávamos por Lisboa, depois do tempo de repouso em Cascais, a vila piscatória onde as embarcações e os molhes que as abrigam demonstram a fragilidade da mutação a que chamamos tempo.
Muitos muitos muitos anos atrás uma antepassada minha, chamada Helena, tinha-o ido buscar à Baía cascalense, onde o poeta desembarcou, guardando-se da peste que Lisboa respirava, roído e meio cego. A viagem a bordo da Nau Santa Clara concluiu-se a 1 de Abril. Quando decidiu fazer uma pausa do mundo dos mortos, foi à mesma Baía que aportou, ainda mais desfeito e cego, se possível. Calhava-me a vez de o ir buscar, seguindo os passos e as instruções da minha antepassada.
De feminina em feminina geração foi-se herdando o recado, escrito a pena e caligrafia bem desenhada. Nele, a matriarca, então ainda jovem, descrevia brevemente a sua relação «dolorosa e ardente» com o poeta, a qual «jamais teve acabamento». Seguia-se a mensagem: sempre que a Luís Vaz lhe apetecesse desembarcar, aquela de nós que à data viva fosse deveria acolhê-lo com a mesma «doce paciência» que a motivou. No espólio de Helena foi encontrado um soneto, escrito a caligrafia idêntica à do Vate, no qual celebra o sossego buliçoso da Vila virada para o mar e Aquela que, pegando-lhe na mão, o levou até à sua casa, no caminho para Sintra, directa ao leito nupcial, descansando após da volúpia que o longo afastamento acicatara. Ainda bem que ninguém acreditou ter sido escrito pelo punho alquebrado de Camões esse soneto amável.
Nunca me assombraram fantasmas, não seria esta a primeira vez. Recebi no telemóvel a mensagem comunicando a escapadinha do poeta, enviada pelo vigilante dos Jerónimos que deu por ele inquieto, praguejando por lhe ter sido atribuída sepultura arrevesada em espaço de tão pétrea vastidão, que até o eco dos passos vivos lhe acrescentava perecimento. Pelos vistos nem ele nem ninguém atinava com o local certo para assinalar os vestígios do corpo a escrever, com a pena, a espada e a confiança.
Preciso de espairecer, o pó em que me tornei faz-me alergia.
Terá dito o poeta ao vigilante. Desconfiei da autenticidade da mensagem e da saúde mental do mensageiro. Ganhar a vida a assegurar que os venerandos mortos não sejam molestados no descanso eterno deve desorientar qualquer um. Tresler, ou tresouvir, nestas circunstâncias, nada mais humano e natural.
Pelo sim pelo não, na data indicada na mensagem, posto que Luís Vaz fazia questão de repetir os saudosos passos do regresso à nesga de terra à qual chamou pátria, dirigi-me ao embarcadouro da Baía de Cascais, relanceei as embarcações que ali vogavam, até que divisei a Santa Clara, aportando, renovada, com um único passageiro.
A figura do poeta metia dó. Longe do garbo retratado por Fernão Gomes, Malhoa ou António Soares, parecia-se, sim senhor, com o desenhado no leito da agonia por Domingos António de Sequeira. Porém, não bradava aos céus, nem se encontrava nu. O vigilante, ou alguém por ele, tinha-lhe fornecido jeans, camisa e casaco que disfarçava a esqualidez, bem como sapatilhas um tanto desgastadas, tal qual acima se deixou entrevisto.
Ali mesmo decidi recolhê-lo a minha casa, alimentá-lo a goles de limonada – o calor começava a dar sinal de vida e a consistência do corpo não estimulava a fome, apenas uma sede beduínica – levá-lo ao barbeiro e ensinar-lhe regras básicas da convivência actual, para não dar nas vistas, conforme o seu desejo.
- E tu quem és, Helena, Joana, Maria?
Descendente de Helena, Helena me puseram. Sem enganos, assegurei-lhe.
Sossegou. Através da televisão, percebeu que ainda era cedo para alguém lhe festejar o aniversário da morte, o dia asado para a homenagem, quer pelo clássico louvor da glória sobre-humana, quer pela incerteza da data do dia em que nasceu, praguejado e rente ao eclipse, assim o dizem.
Li-lhe o poema de Álvaro de Campos sobre os aniversários. E chamam a isso poesia, perguntou, desconfiado. Então o que é que lhe havíamos de chamar? Desabafo, sem arte, respondeu. Lançou o olho ao livro, tentando decifrá-lo. Esse rapaz, ainda dura, ainda se lhe somam os dias? Somam-se, como os teus, Luís Vaz. Não o encontraste nas tuas surtidas lá pelos claustros?
- O quê, fizeram-no meu vizinho? A tanto chegou, ou cheguei eu?
- Oh, não me parece que corras o risco de dar com ele nos teus passeios, a esse nunca mais pomos a vista em cima. Mesmo assim voltámos a festejar o dia dos seus anos, quero dizer, o do Pessoa.
Tentei explicar-lhe os heterónimos. Interessou-se, pediu caderno e lápis.
- Mas é uma festa municipal, com bailaricos e sardinha assada, nada que se compare ao teu, feriado nacional, pompa e circunstância, condecorações, bandeira, hino, centros comerciais a abarrotar.
- E depois dele, quem poetiza por aqui?
A meio do meu palavreado, adormeceu.
De manhã tive medo de lhe dar banho, por mor da conservação do corpo que restava. De maneira que o levei quase nu, não seguro, até à praia, nesse dia deserta - água fria de afastar peixes humanos – mergulhou, lavou-se dos limos no chuveiro adjacente e sentiu-se apto a aprender o que lhe faltava para passar incógnito entre as gentes.
- Solitário entre a gente, queres tu dizer?
- Nunca te roubaria tal verso, nem esse nem nenhum.
- Ninguém mos rouba, estão aí nessas pilhas de livros que me mostraste. A mim roubaram-me um olho e a vida, nenhum dos roubos culpa tua.
- E por falar em olho, já marquei consulta no oftalmologista. Aplicam-te mezinha para dormir, acordas com dois olhos.
Recostou-se no sofá, suspirou, não respondeu.
Divertimo-nos bastante nesses dias, eu contando as novas novidades, ele as velhas. Até veio lembrar o soneto ao 4º conde de Monsanto, D. António de Castro, que lhe terão atribuído por engano e que rezava assim:
«Cinco galinhas e meia
Deve o Senhor de Cascais
E a meia vinha cheia
De apetite para asa demais».
Chegado o dia da consulta, relutou.
- Para que quero eu dois olhos? Um só me chegou para as maiores empreitadas, um só se diz do olho divino, um só tinha Polifemo e a mim não me desagradaria ser filho de ninfa e de Poseidon. Um olho só, como um farol, uma luz para ver, uma luz para ser visto, a mesma.
- E a tua mãe verdadeira, Ana de Sá de Macedo, não gostaria ela de ver o filho são em vez do cadáver que já era antes de se finar?
- Deixa-a descansar em paz, basta o que basta.
Até que um dia acordou com o desejo de Lisboa, a sua, a nova.
Agora aqui estamos, deambulando e descansando do deambular.
Quis começar pela Ribeira das Naus. Compreensível.
Calha bem, é lá que vamos aportar, ou seja, sair do comboio, no Cais do Sodré.
Aqui começaram os sarilhos com a nomenclatura e com a forma preguiçosa de olhar o Tejo, tão oposta à do tempo anterior. Quando lhe falei em sunsets e cocktail bars não aguentou. Pediu-me para parar. Dispenso as descrições, afirmou, peremptório como nunca. Vejo o que for de ver e depois descanso os pés.
Muito aguentou ele. De costas para o rio, subimos até à fila do 28, a rebentar. Embarcar seria maldade imerecida, além de inútil. Perguntei-lhe se queria subir à mouraria, indiquei-lhe as escadas rolantes, bem catitas. Refilou. Que a cena dos mouros não o seduzia. São outros agora, assegurei. Encolheu os ombros.
Propus-lhe fazermos o trajecto do Cortejo Triumphal, assim chamado, aquando da comemoração do seu tricentenário. Primeiro dei-lhe uma panorâmica da Lisboa pombalina. Depois mostrei o itinerário no telemóvel. Estás a ver? Não vais acreditar, no largo antes do teu fica a estátua do poeta Chiado. Qual, o António Ribeiro? Fizeram-lhe uma estátua? Tossiquei, as novidades não eram as melhores. Despejei tudo de uma vez. Olha, o Chiado, quero dizer, o largo propriamente dito, é a zona mais nobre e cara da cidade, enquanto o teu largo, ao cimo, se tornou sítio de reuniões vagabundas, sempre em protestos contra isto e contra aquilo, enfim, os turistas não chegam lá, e a rua que vai do Carmo até ao largo já não se chama do Chiado mas sim Garrett, escritor ilustre do século XIX, visconde de Almeida e Garrett, também teu vizinho nos Jerónimos; ao menos ninguém aqui celebra o dia dos seus anos, nem de nado nem de morto.
Quis ir ao Paço, armado apenas de paciência, desta vez. Perdida a tença, morto lentamente, inveja ardente ainda a latejar e sem saudade, quis ir ao Paço e Paço já não havia. Em seu lugar os edifícios reconstruídos de outros poderes, não menos pérfidos, de onde o país nunca nasceu.
- Tentou nascer no Carmo, em dia grande, ano após ano tenta renascer na Avenida, como hoje. Mas nada, o vagido sempre aquém da vida.
Ontem descemos a Rua Nova do Almada até à Praça do Município, antiga praça do Pelourinho, que foi varrido do nome, na companhia da Santa Inquisição, de má memória. Depois levei-o à Rua dos Douradores para conhecer Bernardo Soares.
A ideia de viajar nauseia-me.
Já vi tudo que nunca tinha visto
Já vi tudo que ainda não vi.
Disse-lhe de cor.
- E esse era o da estátua? Ou era a estátua que escrevia por ele? Devia ser a estátua, de metal e sem quilha. Nela não embarcaria dama alguma, nem alva nem viúva.
Qual alma portuguesa, qual mistério. Nada os aproximava. O ânimo do nosso a bem dizer malandro de muitas espadas e língua única também não estava para deceptividades, já bastava o seu escasso estado material.
A renúncia é a libertação. Não querer é poder.
Esta ao menos fê-lo sorrir, pegaria na pena para a satirizar, se pena tivesse à mão, se verdadeira mão tivesse.
E agora aqui estamos, no Cais das Colunas, num 25 de Abril que nos dói aos dois, de diferentes maneiras.
Gostava que escrevesse as Abrilíadas. Mas como lhe pedir?
- Ajuda-me a levantar, vou ali ao Tejo molhar os pés e já volto.
- E a seguir, tornas a Belém?
- Acho que estou como o outro, já vi tudo que nunca tinha visto, já vi tudo que ainda não vi. Obrigado, bela Helena, lamento não poder oferecer-te embarcação.
Momento mais propício não teria. Poderias ofertar-me bem maior. E sugeri.
Meditando, ou assim julguei, descaiu a cabeça sobre o peito.
- O velho Baco ainda se arrasta pelas ruas, praguejando contra os seus próprios filhos, e Vénus já ninguém sabe quem é. Que buscarei então, para onde a viagem, qual o esforço merecedor de atrevimento? Vi gente a descer a Avenida e a dispersar acto contínuo, voltando pelos mesmos passos em sentido oposto. Essas Abrilíadas, que coisa são para celebrar?
- A liberdade. É pouca coisa?
- Nisso razão terás, não é.
Tendo tal dito, não esperou que o ajudasse. Levantou-se sem claudicar e assim, de costas, parecia renovado, as costas firmes, o cabelo dourado pela aragem. Duvidosa primeiro, depois ciente, por fim embevecida, vi-o adentrar o Tejo, nau de si mesmo, até se confundir com o brilho das águas ao sol vivo. Talvez volte numa manhã etérea, como El-Rei, em milénio indefinido, as Abrilíadas salvas das águas escuras nas quais, por um triz, não se perderam.
Entre duas notas de música existe uma nota, entre dois fatos existe um fato, entre dois grãos de areia por mais juntos que estejam existe um intervalo de espaço, existe um sentir que é entre o sentir nos interstícios da matéria primordial está a linha de mistério e fogo que é a respiração do mundo, e a respiração contínua do mundo é aquilo que ouvimos e chamamos de silêncio.
Clarice Lispector - A Paixão Segundo G. H.
Ainda na cama, uma larga cama de casal onde agora poderia esticar-me à vontade se não temesse o lado frio, pensei estou viva, estou aqui, a casa está tranquila. O vento faz bater a porta, um ruído conhecido, uma voz matutina e desta vez amável, que estranho.
Logo a seguir pensei na minha amiga renascida através de uma mensagem e em como lhe devia esse assomo da paz. Ter tomado com ela um chá de erva-príncipe, sem que se intrometesse a voz da avó Laura, que noutros tempos preparava todas as tardes um bule dessa erva subtil, foi um bálsamo entre mim e a realidade. Ter falado com ela sobre a sua vida ao longo dos anos silenciados, uma forma de acalmar a minha própria vida. Um desejo, mantê-la perto de mim. Perto do meu coração tresloucado.
Foi com esta determinação que me levantei e preparei o pequeno-almoço. Misturei iogurte com pedacinhos de fruta que demoravam a cortar, enquanto a fome se avivava. Nesse debate com a vida em mutação lembrei-me de Clarice e do coração verdadeiro de Joana.
Fui à estante buscar Perto do Coração Selvagem. Mastigava a fruta acabada de cortar, o suco acendia-me a língua, quando a primeira frase: A máquina do papai batia tac-tac…tac-tac-tac…O relógio acordou em tin-dlen sem poeira. O silêncio arrastou-se zzzzzz. O guarda-roupa dizia o quê? Não, não.
São ingénuas, as onomatopeias? Sigamos então para a segunda frase: Entre o relógio, a máquina e o silêncio havia uma orelha à escuta, grande, cor-de-rosa e morta. Pronto, acabou-se a ingenuidade, chega o mundo através de uma orelha singular.
Já com a chávena de café numa mão e o livro na outra, pensei, através dos aromas, que as únicas vozes ouvidas nessa manhã foram a da máquina do papai, a do relógio, a do silêncio, a de Clarice e a da faca que cortava os pedacinhos dos frutos, sottovoce.
Queria saber: depois que se é feliz o que acontece? O que vem depois?
A mulher encarava-a surpresa.
– Que ideia! Faça a mesma pergunta com outras palavras…
- Ser feliz é para se conseguir o quê?
No entanto essa paz, o golo de café, as frases de Clarice, assemelhavam-se a uma ideia de felicidade. Mas para quê, indagava eu com Joana e com quem a escreveu. Haverá tempo durante ser feliz? Depois de ser feliz? Haverá depois? Seria alcançável algo mais íntimo do que a felicidade? Seria disso que andava à procura? Que andava à procura, completamente à toa?
Na biografia de Clarice, chamada Porquê este Mundo, Benjamin Moser chama a atenção para a influência de Espinosa na concepção do romance, através da personagem Octávio, marido de Joana. A leitura de Espinosa veio ao encontro das suas próprias reflexões: «O que era real era a eminência divina que se manifestava na amoral natureza animal, no coração selvagem, que animava o universo. Para Espinosa, como para Clarice, a fidelidade a esta natureza íntima divina constituía o mais nobre objectivo».
Nesse domingo eu tinha um só objectivo, nada nobre: não ouvir vozes além das que a casa podia abrigar e os meus dedos pudessem tocar. Um alívio de cada vez. Uma felicidade tímida, um aquém satisfatório.
Eu antes tinha querido ser os/outros para conhecer o que não era/eu. Entendi então que eu já tinha/sido os outros e isso era fácil. Minha experiência maior seria ser o /outro dos outros: e o outro dos/outros era eu.
Parecia destinado precisamente a mim, naquele domingo, este poema de Clarice que acabou por me fazer companhia o dia inteiro.
Com meio frango cortado aos pedaços que encontrei no congelador e os dois ovos que restavam, sem hortelã, acabei por fazer galinha mourisca, um prato meio árabe, como o nome indica, um prato de difícil preparação. Ao polvilhar os ovos escalfados com canela, o último passo antes de a mistura ser vazada para uma terrina onde repousam fatias de pão duro, o aroma voltou a evocar a cozinha da avó Laura, onde as especiarias se alinhavam numa prateleira contígua à dos chás e as laranjas espalhavam toda a sua alegria. Com grande esforço, consegui conter a voz da avó, mesmo ali, na concha da orelha, a voz nunca cansada de definir o mundo, contando histórias ininterruptas, uma história sem fim.
Quando, nesse domingo, reli Clarice, recostada na cama, à luz de um candeeiro, senti-me atraída para o fundo do enigma, com a leveza de quem me levasse a passear através dos recantos desconhecidos da casa, onde certos ruídos conversavam comigo, em língua estranha. Ruídos de madeira velha, de passos que ora correm no telhado ora nas minhas descompassadas veias.
Antes de adormecer, revi a entrevista de Clarice ao programa Panorama. Ela tinha acabado de escrever A Hora da Estrela e ainda não queria revelar o nome da protagonista, a moça que se chamaria Macabéa. O livro começa assim: Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história havia a pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim.
Nessa entrevista Clarice definiu a sua escrita da juventude como caótica, intensa, inteiramente fora da realidade da vida. Diz também que o seu texto preferido é o conto O ovo e a galinha, para si mesma um mistério, «não o compreendo muito bem», diz.
Olho o ovo na cozinha com atenção superficial para não quebrá-lo. Tomo o maior cuidado de não entendê-lo.
Ao entrar no sono, misturei as imagens desse dia na minha cabeça que começava a ausentar-se. Uma história que a certo momento – mas que momento? – terá virado sonho.
Vi o ovo rolar na minha direcção e veio-me a ideia de uma escolha, de um não-acaso. A voz dentro do ovo dizia por favor não me abandones, não me deixes sozinho. Eu também não queria estar sozinha, por isso sim, peguei nele com relutância, sem afecto, as mãos querendo não sentir o calor, os olhos querendo não ver os restos de palha e de detritos. Pensando, ainda assim, que o ovo viera ter comigo para me contar o seu segredo, que era, supunha eu, uma hipótese, vaga esperança de vida. Não o partir, a primeira decisão. Colocá-lo no parapeito da janela, a segunda. Esperar, a terceira. Arranjar-lhe uma caixa onde se sentisse confortável já não foi uma decisão, mas curiosidade e jogo, algo parecido com a fé. A caixa era a de um relógio que Ele me tinha oferecido no aniversário, bem acolhedora, à prova do frescor da noite. Três luas depois, acordei de manhã ao som do triste piar. O pintainho estendia bico e asas para uma mãe imaginária. Eu não era essa mãe, demasiado real, demasiado humana. Para não deixar morrer o pintainho pus-lhe um nome, Pinto Calçudo. Pus-lhe também um sorriso. Depois vi-o aconchegar-se bem na caixa e ouvi o coração batendo tic-tac-tic-tac-tic, um tempo tão acelerado que o meu, suspenso, seria incapaz de acompanhar.
Como se cada instante fosse alheio à morte. Como se não fosse a pedra ou a centelha. Como se fosse livre, como se pudesse abrir-se à luz. Como se fosse Novembro e uma folha caísse. Como se a palavra não fosse um cataclismo. Frágil, frágil, cada instante. Sempre o último.
Ela escreve e chama-me. Diz, perde os teus sentidos, não te ajudam a caminhar pela floresta. Lê o que a palavra esconde e destapa, como se abrisses os olhos depois de uma cegueira de mil anos, as pálpebras indecisas, vencidas pela luz. Aprende a leitura como se precisasses das palavras apenas para transitares entre universos ligados pelo desejo, corpo em estado de energia pura. Ou como se nem precisasses das palavras e perguntasses sem parar, para que servem? Para que servem, se é tão fácil sobreviver sem elas para saciar a fome, a sede, o sono, apenas com um choro ou um sorriso, um abanar de cauda, uma respiração.
As palavras são em vez de quê? Ou existem como todos os outros seres, criando o seu próprio corpo, o seu lugar, o texto seu?
CESARINY HOJE DE MANHÃ
Mais de meio século depois, um milhão de pessoas continua a sair para a rua desde as sete e meia horas da manhã. Talvez uma hora mais cedo, agora que o tempo passa mais depressa. Talvez não em Lisboa mas em sítios onde outrora os burgueses iam piquenicar hebdomadariamente entre papoulas. Talvez não um milhão mas três milhões de pessoas a sair a sair para o meio da rua.
E saímos? mas sim, saímos! tossicando, sorrindo, gente atrasada, não só em relação ao barco para Lisboa (os percursos são agora os inversos, já não há proletários), mas a tudo.
E a telefonista (que persiste em todos nós), o pedreiro, o banqueiro, os estafetas (também as varinas já se foram), o desempregado e o presidiário com pena suspensa continuam a começar o dia sem dar início a coisa alguma.
Pouco mais de meio século depois, é tudo igual, apesar de tudo parecer diferente. Cresceram ainda mais os prédios onde poetas, gatos brancos, assomam às janelas, pousam tão alto que já ninguém os vê nem eles vêem nada. A probabilidade do dinheiro estragou de vez até os mais nobres dos felinos.
Apesar de tudo, também eu saio para a rua com bastante naturalidade. Até já viajei (ida e volta) para o Barreiro. Pouco mais de meio século depois.
Uma cidade, uma criatura sensível, às vezes boa, tão ininteligível como as outras. Um ponto cada vez mais vago no horizonte.
.
VOLTA AO MUNDO EM VINTE DIAS E MEIO
(TEXTO DE ACEITAÇÃO DO PRÉMIO APE/DGLAB)
Agradeço ao Leo, a criança que fala ao longo deste livro, por ter-me ajudado a lidar com o tempo decrescente.
Foi ele o meu companheiro num percurso difícil, de dias e anos baralhados, que vivi ao longo de 2019 e 2020. Ajudámo-nos um ao outro a enfrentar monstros que ora pareciam moinhos, ora vagas gigantes, ora minutos indefesos.
Pegámos na mão um do outro quando deambulávamos no Reijksmuseum em busca de imagens que nos acolhessem no seu mundo. Eu vislumbrava-o há alguns anos, sempre fugidio, difícil de distinguir entre as outras crianças. Talvez ele me avistasse do mesmo modo, quem sabe, esse segredo nunca me revelou. Chegámos a coincidir na idade, quando, em pequena, a minha casa estremecia com vozes alteradas. Viajávamos então os dois à volta de um quarto escuro, ele a construir sonhos com legos, eu com palavras. Quando era eu a adulta, tentava escutá-lo e animá-lo, aliando-me às figuras benfazejas das telas. Quando a criança era eu, aprendia com ele a tomar decisões que exigiam determinação, um salto na idade.
A família do Leo veio depois, criada à medida das sombras que o atormentavam sem darem por isso, às voltas com os seus próprios tormentos. A viagem que os liga só na aparência é um acidente, pois a sua presença tem tanto de confronto com as trevas por entre a Tempestade como de desejo aventuroso de encontrar uma fresta, um milímetro, um segundo, um hífen, que seja sinal de recomeço e reunião.
Não pretendo explicar este livro, trabalho muito além da minha capacidade. Uma ficção não se explica, oferece-se às diversas leituras, lê-se tantas vezes quantos os leitores. O múltiplo é a sua identidade, o ar que a mantém viva. A relação entre autora e obra é demasiado íntima para criar uma leitura que acrescente sentidos, antes tende a circunscrevê-los aos que conscientemente procurou.
Sei que cada um dos meus livros é um salto sem rede, um desafio que faço a mim mesma: deixa-te de preguiça e surpreende-me, já foste capaz outras vezes, talvez consigas, talvez não. Se não fores capaz, paciência, mas não te deixes levar por tentações, reiterações, fórmulas conhecidas. Ou revolves outro chão, outra ignorância, ou nada feito.
Só como imprudência concebo o impulso da escrita. Esta Volta ao Mundo, cujos primeiros esboços, em textos breves, remontam a 2010 e ao livro de autora que dediquei aos meus pais, «António, Maria», não escapou à imersão nesse risco sem cálculos.
E para que é que isso serve, perguntar-se-á.
A utilidade é uma mercadoria de reputação inflacionada.
O que não serve para manter a vida material é aquilo que nos torna humanos entre seres semelhantes. A capacidade de questionar, transformar e aceder a um infinito de possibilidades, eis a diferença.
O verbo servir e a família de palavras à qual pertence, até à máxima degradação da subserviência, contam-se entre o que tento arredar da minha escrita e da minha vida, salvo em cintilações como leitora: os belíssimos sonetos de Camões dedicados ao amor enquanto servidão e o reconhecimento da incapacidade de escapar, no percurso da infância até à morte, ao que nos tolhe a liberdade amada, contido nos versos de Herberto Helder: «dos trabalhos do mundo corrompida/que servidões carrega a minha vida», introdutórios ao livro a que chamou «Servidões», escrito a contas com declínio do corpo e com a morte.
A literatura não serve nem se serve nem é um utensílio serviçal. Está apenas «entregue ao serviço de uma só inspiração», para retomar as palavras de Herberto.
Nem por isso é inócua, muito menos supérflua.
Conduz-nos aos caminhos que leitores e escritores sempre procuraram: a aproximação com os outros, como forma de entendimento do mundo e de viver plenamente, entre iguais. O romance não nos dá um novo saber, mas uma possibilidade de comunicação com seres diferentes dos que em nós reconhecemos. «O horizonte último dessa experiência não é a verdade, mas o amor, forma suprema da ligação humana», como nos diz Rorty. «Pensar e sentir adoptando o ponto de vista dos outros, pessoas reais ou personagens literárias, é o único meio de tender à universalidade, permitindo-nos cumprir a nossa vocação», como nos diz Todorov.
A capacidade de nos imaginarmos como outros é a essência da ficção, para o escritor e para o leitor, que se aproximam através do texto.
Esse modo de imaginação está actualmente a diminuir a olhos vistos. Não me parece coincidência que a rejeição de textos não dominados pela velocidade coexista com o acréscimo dos níveis de violência à escala global, num perigoso exercício de construção de cenários reais propícios ao extermínio dos humanos.
A velocidade é inimiga do entendimento. Numa recente crónica intitulada «Breve Ensaio Sobre a Velocidade», Gonçalo M. Tavares observa: «Um atropelamento em Berlim: os atentados são agora feitos em veículos normais, mas a velocidade traz a potência do diabo».
Essa potência, que nos serve às refeições, em directo, a iminente devastação, não só dos humanos mas dos seres que pretendem dominar, reclama por acções e por palavras plenas de sentidos vigorosos.
Quando pomos os olhos a voar no ecrã, eles tropeçam em palavras que exibem o seu poder corrosivo, de sentido único. Quando os dedos voam no teclado correm o risco de desaprenderem outras palavras, esquecem a beleza da multiplicidade.
Capturadas e infelizes, as palavras pedem esmola. Como no poema de Hélia Correia:
Lançai-me uma palavra, como alguns
Atiram côdea aos cães.
Uma palavra
Que, embrulhada nesse cuspo
Que vos escorre pelos queixos,
Brilha
E desconcerta a própria
Repugnância.
Sacudi-a de vós, tal como alguém
Sacode a lama seca do sapato
Sem perceber sequer que lama é
Porque não tira os pés
Do alcatrão.
Essa palavra abandonada à porta,
Eu a reconhecerei, como se houvesse
Nela um pedido,
A súplica de um órfão,
De uma cria deixada para
Morrer.
Eu pegarei nessa palavra ao colo
E, não sabendo onde encontrar abrigo
Nem alimento,
Dormirei com ela,
Ouvindo-a murmurar,
Enquanto os bosques
Vão crepitando e a cinza
Nos recobre.
Aceito este prémio com a alegria de quem vê o seu trabalho chegar, como partilha, aos destinatários. Leitores, por ofício como no caso dos elementos do júri que o decidiu, ou por prazer, ou por amor. Cuidadores da palavra, aquela que não pode morrer.
Aceito-o como intermediária de vozes por escutar, as que não insultam, as que não odeiam, as que vivem a dor de uma humanidade retalhada, as que guardam sonhos e pesadelos em caixinhas de música e cantam sobre a desolação, as que protegem a cabeça com um gesto ancestral, as que se confundem umas com as outras e com o pó do chão, onde tentam mantê-las para conforto e glória de quem reina.
Vozes como aquelas de que fala Ana Luísa Amaral no seu poema «Mediterrâneo»:
Os mares de Homero deixaram
de trazer, esbeltas, as suas naves
em nome dos sem-nome, continua.
Por desertos de areia, desertos sem
Sentido, continua por rostos no deserto,
Os do sem nome ou rosto, continua.
Ao fundo do deserto, diz-se gotas de
Sangue e grãos de areia, a esfinge
No deserto, continua. No verdadeiro
Nome do espesso fluido que se diz
Vital, em toneladas certas, continua.
Os divinos moinhos moendo devagar
Fina farinha, inúteis mares de pó.
Recebo este prémio com a esperança de que as histórias contadas pelos humanos desde o fundo do tempo, para se sentirem ligados em comunidade, prevaleçam sobre a rudimentar gritaria que ameaça destruir o engenho, a arte, o simples respirar. Daí que destine o seu valor monetário a um projecto a que chamei «Histórias sem Muros nem Ameias», e que, num primeiro passo, recolherá textos escritos por crianças e adolescentes de todo o mundo, para reunir num volume e, quem sabe, numa leitura colectiva presencial.
Se algo pode opor-se eficazmente à violência que corrompe e destrói, é a arte, a palavra, a música, a linguagem partilhada.
A maravilha que resiste na sujidade dos humanos.




Sabia que quando abrisse os olhos o clarão lá estaria e pouco depois teria de os voltar a fechar porque aquele poder de cegar é invencível. Quem se esconde atrás dele parece brincar comigo e os outros a um jogo terrível, quanto mais luz nos dá mais escuridão exige aos nossos corpos, até ele próprio adormecer, deixando os filhos em seu lugar.
São muitos, os seus filhos, e preciosos. Brilham para nos ensinar os caminhos mais rápidos, os mais seguros.
Às vezes caem, os filhotes, corremos atrás deles, sem proveito. Desaparecem para trás de tudo o que existe, o que lhes acontecerá? Não gosto de os ver desaparecer, como desaparecem no rio ou dentro do corpo da jiboia alguns dos nossos. No entanto essa queda, essas luzes trémulas que não ferem os olhos, são maravilhosas. Como seria correr atrás das luzes sem parar? Iria ter ao mundo-luz ou ao mundo-nada? Serão o mesmo? Estão separados por aquilo a que agora chamo pálpebra? As pálpebras dos meus olhos, as pálpebras do mundo.
Faço as perguntas em voz alta. Quem dorme ao meu lado disse que se eu corresse muito, iria comigo, queria correr tanto como eu.
*🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉
Ela dormia ao meu lado. O cheiro era forte no seu corpo. As unhas também. Em vez de corrermos atrás das estrelas, como o meu pai sonhava, aproximávamo-nos um do outro, um corpo nosso, a lua cheia. O corpo inchava, primeiro o meu, e o meu e o meu, algumas luas depois o dela. Seria para dentro dos nossos corpos que as estrelas despareciam?
E um dia, entre uivos, saíam pequeninos seres-estrelas que sugavam o leite, ou seja, a luz. O leite a escorrer branco do teu corpo inchado, depois de ter escorrido do meu, do meu, do meu.
Não abriam os olhos para a luz vibrante, sabiam mais do que o saber crescido. Então, depois de prometidos à luz de cada dia milagroso, eu pegava-lhes, estendia os braços e expunha-os ao sol, para que os recebesse e nunca lhes faltasse, mal os olhos se abrissem.
Ela dormia ao meu lado e chamava filhos a esses seres feitos de luz.
Um dia comecei a chamar-lhes pequenas estrelas, filhos meus. Quando abriam os olhos, sorriam como se vislumbrassem o mundo além da pálpebra.
É impossível olhar exactamente para o mesmo ponto indefinido, só eles o conhecem.
O MÁRIO-HENRIQUE!
Não me importava de ser nêspera para ficar deitada, muito calada, à espera que uma Velha
saísse do pensamento de Mário-Henrique e viajasse pelo mundo a fazer tropelias. Tropeleirias, avanço, enquanto o dicionário rabuja contra mim.
Olha, uma Velha! Diria eu ao espelho, com a voz do Mário Viegas e uma touca a cobrir a cabeça, para que o sol pequeno e azulado não derretesse a moleirinha da nêspera, antes de ser comida.
Uma nêspera chamada Ernesto, um nome com a sua importância remetida ao passado, trocada por uma mancha no colchão do Ministro dos peixes, no colchão do Presidente das preocupações, no colchão do Bebedor que, esse sim, se chamava Bernardo António Lisboa de Vasconcelos e trabalhava a sua garrafa de gin.
- Nada de rebaptismos, camarada. Fui uma vez submerso e fiquei a soprar bolhas para o resto do tempo que os ossos húmidos me derem (a infância nunca nos sai da memória). Assaltarei o que me der na gana, munido de escafandro, lança e flóber, pam pam pam, pardal aqui tia Albertina ali generais acoli ditadores acolá.
Enquanto a nêspera se balança languidamente na rede velha que a Velha tece, Mário arranca para a Índia, dando de caras com o Brasil, Gama não sendo mas Mário-Ameríndio, guerrilheiro vadio, perdido de amores e enganado de múltiplas maneiras. Inventou então um continente e, embaraçado com o feito, apontou o dedo (esse, sim, não o outro), ao menino Cabral.
- Foi ele, o tal cabral errante, esse infrarealista, que inventou a rota vergonhosa, os negrumes negreiros e o fado. Eu só inventei aquilo, como é que se chama, aquilo que nasceu da primitiva união entre uva e oxigénio, descendendo pelos tempos em água corrente.
A própria transparência, continuo. Foi isso, essa medida que um copo pede a outro, que um pensamento a outro pede e com todos se bate, essa tortura óssea, esse estar mal com a vida que as palavras sacodem, dobrando-se ao meio pelo riso, pontapeando as portas, os portões, as grades e a sofreguidão dos indecisos, foi isso, essa coisa
O Coiso.
Isso ele inventou, Mário de si mesmo, a cavalo na vida contra os colarinhos, maldito na labuta contra os vocês e mercês e mer mer mer mer
cados
da
estação defunta nacional.
Vai daí, acharam-no demais. Houve apupos, gritaria e tosses cavernosas que o expulsaram para fora da amurada e ele, ai sim, venha o
Papagaio
E outros pês de geração em geração armados com bacamartes
- Baca quê? Ó menino isto é uma metralhadora, um bacanal de vivas ao povo que não ata nem desata nem cheira a fragrâncias de espírito. Desordem, senhor polícia, a bola a quem a empurra para o fundo da baliza.
E tu empurras?
- Ora pois, entre Carcavelos e a ventania do Guincho, um areal marginal onde me rebolo na margem ocidental da minha vida, isto é que é palavra, isto é que é vida, a lúcida bebedeira contínua.
É mesmo ali que que se fazem
Tu-ris
tas
marcialmente enfileirados louvando o sol e os Ministros do dito, Santos sejam.
Olha que o almoço está pronto, chamou a mãe. São carapaus assados. Os turistas preferiam esturjão e mandaram a família à
pesca.
A família, dedicada às majestades e extremamente agradecida, foi.
O esturjão, depois de tragar o farnel e a família, amandou-se, catita, para a fileira dos turistas. Esturricou, derivou, anoiteceu.
Uma bela manhã falha o coração, cai. Tem o enfarte. Acabaram-se as momices. Já não responde pelo nome, nem por nada.
Não responde, a não ser, muito provavelmente, na imaginação da mãe. Os amigos choram. A mãe imagina.
E agora?
O corpo esconde-se, é fácil. Mas o que era, o que é, onde está?
Quando, de repente, começou a voar, nem ele se admirou muito nem a pátria deu notícia.
Que diabo é aquilo lá em cima, perguntou o rebanho? Um manequim? Um pássaro? Um guerrilheiro? A república?
O Mário-Henrique? O Leiria?
Ora, é um longo copo de gin carregado de palavras e desenhos.
- Sou o arcebispo de Beja.
Ninguém acreditou. Quando chegou ao chão puseram-no no olho da rua. Nu.
É o que faz a miopia.
FOTOGRAMAS
As vozes, os relances, eram sinal de que vogava entre dois mundos e que o mundo escuro me atraía ao ponto de sorrir quando nele mergulhava. Nesse mundo, passavam por vezes no meu campo mental, ao ritmo de um por segundo, fotogramas de pessoas que nunca soube se eram ou não reais, se as devia à memória ou à imaginação. De todas as eras, idades, semblantes, ridentes ou sérias, lamentosas ou indiferentes, sucediam-se como se quisessem demonstrar-me que existiam e esperavam por mim. Nunca as vi como almas em sofrimento, mas como personagens, de histórias lidas ou de histórias por escrever. Algumas não me davam tempo para as fixar. Um segundo e abandonavam-me, desafiando a memória. Outras eram por de mais conhecidas. Ou assim julgava eu. Franz e os seus olhos magnéticos, semelhantes aos da tia Rosalina, com sua blusa de gola bordada e um fiozinho de prata, a medalhinha de Nossa Senhora pendente. O perfil do Senhor Palomar, braços cruzados atrás das costas, queixo levantado, observando um ponto além do horizonte, um corpo celeste descoberto a olho nu. Hamlet, o príncipe, a cabeça no colo da mãe, adormecido, sentados lado a lado num degrau. A minha mãe, a descascar batatas com uma faca corticeira das que o meu avô fazia, virando a cara para mim, a sorrir para a fotografia. A Gata Borralheira a correr na minha direcção, ofegante, talvez em fuga, sem nunca me alcançar. Virginia concentrada no caderno, com a cara de Nicole Kidman. Um pássaro pousado no ombro de Carminho que, no espelho, tem a minha cara, a minha cara antes do Não de Chico na praia ao sul, antes de me tornar Marguerite, a minha cara no dia em que me fui sentar no banco do barco entre as margens do Tejo.

Então ele disse-me que nunca poderíamos ficar juntos.
- Somos iguais um ao outro, como se tivéssemos nascido do mesmo pai e da mesma mãe, seria um incesto.
E eu pensei que o incesto não é crime e que se castigo houvesse valia a pena suportá-lo. Mas como reagir a tamanha sensatez?
Era julho. Os cubos de gelo flutuavam no gin e eu fixava-os atentamente, tentando apreender o processo de dissolução, até haver só um líquido qualquer dentro de um copo qualquer numa vida qualquer.
Disse-lhe ainda que, ao contrário dele, odeio o sabor da bebida misturada com gelo derretido, já era uma diferença. Não respondeu.
Com os dedos, fui tirando do copo os cubos de gelo, um a um. Fiquei a vê-los formar uma pequena lagoa no chão.
Essa história é verdadeira, pergunta a Jó.
Numa história podes puxar por uma ponta da verdade, nunca encontrarás a outra ponta.
ANA
Ann percorreu quase três mil quilómetros entre a sua casa no norte da Bélgica e Atenas. Hannah demorou quase meio século na viagem, vinda de Nova Iorque. Anja fez uma longa viagem de comboio, do seu continente gelado para o sul. Annoula morava nos arredores da cidade, andou cerca de dois mil passos. Ana viajou de carruagem alugada, fez muitas paragens pelo caminho, narrou o itinerário. Anna acompanhou o encontro e agora conta.
Anna sou eu.
Escrevo num lugar da Europa.
A Europa não encontra posição para estar, tudo lhe dói. Tenta reclinar-se num sofá ergonómico mas acordam-na constantemente aos pontapés. Chamam-lhe velha, Velha vadia, dizem as vozes iradas dos novos antropófagos. incitam-na a lutar contra os próprios filhos, contra os filhos e os netos que procuram chamá-la, recordá-la do que é. Europa só consegue arrastar o sofá que lhe serve de carapaça, não de abrigo.
Escrevo eu, Anna, sentada no pulso direito da Europa.
Convoco Ann, Anja, Hannah, Annoula e Ana. Juntas, talvez possamos abrir as pálpebras enrugadas da Europa.
O PAI HORIZONTAL
Retalhos. Cromos que coleccionei quando menino, Eusébio, Coluna, os não sei quantos violinos dele. Eu e o meu pai, morto.
Eu e o meu pai, mortos.
Não falámos, ele porque não queria, eu porque estava só a existir, a tentar aprender o meu nome.
O pai cego, como Tirésias e Homero, como a multidão de Saramago. Como Borges.
Numa mesa, o corpo imóvel, eu, a rosa na jarra, a minha mãe ainda uma velha bonita. Ontem, há pouco mais de dois minutos.
A rosa murchou no seu riso de dama antiga, galante, aprisionada num caminho sem vento.
Como podia eu progredir sem vento algum, sem aprender o meu nome?
Dizem que isto é memória. Dizem, porque o tempo os equivoca. Baralha consoantes e vogais numa palavra indizível. Tempo igual a palavra intransmissível, de mim para mim.
E mais dizem que quando são precisas as palavras não chegam. Não há palavras, dizem, perante a dor. Mas há. Uma delas é a palavra tempo, a que existe em mim e em mais ninguém, sem que os minutos perturbem a ferida.
A mãe ainda bonita e pálida, ainda de mãos mais que vazias. Mãos vazias contemplando o buraco. Dizem que um túnel e que há sempre luz ao fundo, ínfima luz, sempre ao fundo, sempre afastada o suficiente para em vez de tempo se chamar esperança.
Nico, chamava a mãe. Nico, anda cá, ainda cabes no meu colo. Seria o meu nome? Aquelas sílabas, uma palavra breve, à beirinha do túnel?
Dava um passo, o colo à espera, as mãos vazias tentando ver para além do buraco. Nico, o paizinho. O paizinho.
O pai horizontal. Nunca, quando me pediam para o desenhar, me ocorreu desenhá-lo assim, paralelo ao chão. Punha-lhe a cama à medida do corpo, um tapete por baixo, a mesa de cabeceira ao lado, um candeeiro em vez das velas que chamavam as rezas. Punha-lhe uma janela, uma luz, ao fundo do túnel. Seria fácil desenhá-lo assim. Nunca me ocorreu.
Os dois a tentar existir, ele enquanto memória, insistindo no significado do tempo, eu enquanto nome. Nico. O colo à minha espera.
No Morro da Providência, num século qualquer, Dona Rosiette olha-nos, sorrindo. Diz
- a gente tem fome de leitura. Então eu levo oitenta dias a preparar o Carnaval e não posso levar oitenta dias para ler? Aprender é uma conquista.
Não é o tempo, aqui, que nos comove com os seus enleios.
Diz mais, Dona Rosiette
- são as nossas vitórias, a primeira escola de samba nasceu aqui, agora me botaram para autografar livros.
O livro é uma recolha de fotografias de olhares femininos nos lugares esquecidos. Além do Morro da Providência vamos dar com eles em Kibera – Quénia –, Deli e numa aldeia do Camboja. A mulher que nos fala desta aldeia faz um poema involuntário. Diz
a minha caneta era o meu martelo grande/o meu caderno era a pedra grande onde se partiam as outras/as folhas do meu caderno eram a natureza/e é nessa universidade que participo hoje nos debates sobre questões de género.
Os olhares viajam em fotografias gigantes, que cobrem comboios e autocarros em movimento. O nosso olhar tenta acompanhá-los, seguir o movimento. Mas acaba por perdê-los, se o corpo ficar quieto. Se o corpo ficar quieto, perderá os olhares, o norte, o sul e a vontade, entregue à sombra de si mesmo. (*)
(*) a partir do documentário Women are heroes, do fotógrafo itinerante JR. A ver também o documentário do mesmo autor com Agnès Varda - Visages Villages.
NÃO HÁ RAPAZES FEIOS
Voltei a Umberto Eco e à sua História do Feio (Difel – 2007) para apurar a minha percepção sobre o modo como se relacionam os dois opostos estéticos – beleza e fealdade – nesta época em que a competição é o modelo e a imagem o seu instrumento. Eco assinala três categorias: o "feio formal", o "feio artístico" e o "feio em si mesmo", este último ligado especialmente à fealdade física.
Deixarei em sossego as duas primeiras, entretidas nos debates sobre a desarmonia, a maldade, o macabro, as teses criminológicas de Lombroso, o gótico, o decadente, a distorção. Vou directa à terceira, não sem tomar balanço, que o assunto é delicado. Falarei de monstros, sapos, príncipes, corcundas, maçãs envenenadas, selfies e ortodontia.
Está em curso uma revolução silenciosa, que vai tornando incompreensível o imaginário das histórias tradicionais. Séculos de braço de ferro entre os humanos e a natureza vêm superando injustiças escritas nas estrelas, a uma velocidade inaudita, em movimento uniformemente acelerado. Nos últimos tempos o movimento virou remoinho, beleza e fealdade já não são o que eram, e não porque os padrões tivessem mudado em demasia: as pestanas reviradas, os ombros largos, os olhos de amêndoa e a cintura fina continuam imbatíveis. A novidade é que todos podemos aceder a tais atributos na imagem que projectamos. O que vem acontecendo é a supressão do feio, não por força da fogueira, do amor ou do estilo, mas por força do engenho corrector.
Sim, a dicotomia beleza/fealdade continua a ser uma questão de vida ou morte. O ímpeto excludente dos humanos no seu viver comum, ligado à disputa de territórios favoráveis, não poupa os que a injusta natureza marcou com a fealdade.
Sim, o destino do feio Hefesto, arremessado do alto dos céus pela mãe Hera, depois traído por Afrodite, e o destino de Apolo, o belo, que Homero eternizou no seu hino, prolongam-se na divergência entre a sina dos mortais e a do beautiful people, mesmo que as redes sociais nos proponham a fama ininterrupta.
Sim, continuando as observações de Eco, persistimos em tornar o feio um inimigo e em transformar o inimigo em feio. Foi assim com as mulheres atiradas à fogueira por bruxaria, foi assim com os judeus (e os ciganos, as pessoas com deficiência, os homossexuais) exterminados sob a notação de lixo por confronto com a pureza da "raça ariana". É assim com as mulheres, por todo o lado, atiradas ao esquecimento, outra espécie de fogueira, outra espécie de verruga.
À época em que o livro saiu (poucos anos depois da História da Beleza), falava Eco do triunfo da fealdade, alcançado através da mistura entre o que obedece a padrões tradicionais de beleza e o que os contraria, aquilo a que chamou o "politeísmo da beleza".
Pois bem, alguns anos depois, suspeito que a beleza aparente tenha recuperado a supremacia e destronado a fealdade. Para isso conquistou os ecrãs e, magnânima, pôs-se a atirar à audiência estojos de maquilhagem e salvamento. Para quê enquadrar os considerados feios em molduras de beleza rara se todos podem ser belos segundo o padrão dominante?
Já não é possível Bela amar o Monstro que esconde um Príncipe, porque nenhum encantamento é capaz de enfear alguém que aparece perfeito na capa das revistas (os monstros continuam a existir, mas sob a aparência de moços esbeltos, com bons cortes de cabelo). Já não é preciso beijar um sapo para que ele se transforme em príncipe, porque atrás do sapo se perfilam batalhões de príncipes à espera de serem beijados. Quasímodo, depois da cirurgia, pode aspirar a uma ligação carnal com Esmeralda. Já não é plausível o desencontro entre Roxane e Cyrano, pois este fez uma rinoplastia na adolescência. A madrasta da Branca de Neve e a madrasta da Gata Borralheira e todas as madrastas do mundo deixaram de ter inveja das enteadas, pois o charme dos cinquenta e o efusivo novo charme dos sessenta, aliados à reconstrução plástica do corpo, fazem delas boas amigas que se divertem a trocar roupa.
Desafio alguém a provar que nunca foi tentado por uma selfie e não tenha preparado a dentição para o momento. Ao contrário do que possa parecer, não foram as selfies que fizeram prosperar a ortodontia, mas o inverso.
Onde nos levará tanta beleza, não sei. Desconfio que nos vamos estampar num lago qualquer, como Narciso. Vai-se perdendo o encantamento, o poder da palavra, a importância do estilo e da inteligência, que arrebatavam tantos corações femininos (os masculinos sempre foram mais sensíveis aos atributos tradicionais), o jogo entre a aparência e o amor. Haverá que trocar de provérbio: a quem o belo ama, o feio não apetece.
O feio, decididamente, não apetece. O feio não tem lugar.
Os feios continuam a ser os inimigos, mas já não estão entre nós. Às vezes pedem-nos socorro, vindos de terras aflitas, do outro lado do mar. Porque haveríamos nós de os acolher? Para nos encherem os ecrãs de caras imperfeitas? Ora ora, era o que faltava.
PROUST
Durante muito tempo, a miúda costumava deitar-se tarde. Deitar-se significava apagar a luz e escorregar pela cama, a cabeça na almofada, a espera pelo sono.
A mãe não subia as escadas para lhe dar um beijo de boa-noite. Não havia escadas. A madalena da miúda é o queque dos domingos de manhã, em qualquer café do mundo. Não me importo de lhe chamar agora muffin, só lamento que a massa e o tempo exacto de cozedura sejam sempre iguais e impeçam que algum fique tostado e crocante. Também sinto falta da uva-passa.
Deitava-se tarde por não conseguir parar de ler Proust. Prolongava a leitura transcrevendo trechos para cadernos cor de violeta, a letra redonda, entre o adolescente e o adulto. Os cadernos foram destruídos numa daquelas fúrias arrumadoras que maldizem a falta de espaço e o tempo por reencontrar.
(excerto de Uma Biografia da Leitura)

25 d#abril, um dia
O que falta à memória é uma ventania repentina que perturbe o tempo. O que foi há cinquenta anos será, tanto o que exigimos.
Podemos começar assim: não respeitaremos a ordem de ficar em casa nem a vontade de ficar em casa. Usando os telemóveis, com o ânimo de estarmos todos a sair para o meio da rua, a revolução começa por volta das onze da manhã e nunca mais acaba.
À tarde pára de chuviscar, ficamos por aqui, à conversa uns com os outros. Há quantos séculos não nos encontramos? Ora reparem, então estes é que somos nós? Bem puídos estamos, roídas as carnes até ao fio do lombo. Da malinha viajante já só constam saudades (a palavra) e um pastel de nata. Andámos que tempos a dormir na forma, aos cuidados da Cristina e do PSI 20. Fizemos miséria, muita parvoíce. Mesmo aplicando-lhe um bom filtro e recorrendo à IA, a fotografia tem dificuldade em salvar-nos das figuras tristes. Por exemplo, a liberdade. Forretas como poucos, tanto tivemos medo de a ganhar que nos fomos habituando a perdê-la devagarinho, sem exceder o limite das nossas possibilidades, contas certíssimas, cidadãos, o passo menor que a perna.
O estado de direito custa para cima de um milhão de euros. O custo do estado de direito é incomportável. O custo de uma pessoa é incomportável.
A culpa é do excesso de expectativas dos portugueses.
A culpa é do excesso de importugueses.
São vozes que calam fundo. O excesso sempre foi um inimigo de respeito e o respeitinho, já se sabe, mais um SMO de última hora, dá de comer a nove milhões de portugueses.
Olhemos então uns para os outros, agora que os cartazes vão abandonando o Largo do Carmo e os governantes se encaminham para o exílio que há muito, com negócios, conquistaram. Podemos descer ao cais das colunas, para ir molhar os pés. O rio da nossa aldeia contempla-nos, extasiado. Tanta gente com vontade de dançar, pensa ele. O que as fará desistir depois de três kudurus e um baile mandado? O sonho deles é apertar-me entre duas margens até me tornarem num riacho, só não o fazem para não perderem a enchente dos turistas.
Habituado a acordar de mau humor, o rio nem reparou que hoje somos diferentes. Hoje mandámos os mercados à caça aos gambuzinos e ficámos no solzinho primaveril a subir nos ratings da euforia como antigamente ao mastro dos navios, terra à vista, e pela cor da pele tisnada nos achámos.
O imenso litoral de um continente vadio, propenso a velhos rituais. A bem dizer nascemos na areia, como ervas daninhas; ou então demos à costa, conchinhas, pequenos búzios, os restos dos heróis. Passamos anos a chorar os que se perdem nas vagas, os que desaparecem na neblina. Anos e anos a perscrutar o horizonte, a avaliar a maré, como se não tivéssemos mais nada para fazer. Outros anos são passados a rezingarmos uns com os outros, nesta maneira de nos queixarmos e invejarmos em surdina, que aprendemos com os mártires.
Já íamos em quantos, outra vez? Quatro, cinco, dez anos, outro meio século em luto? Não faltava mais nada. Com este sol queremos ser turistas, queremos dançar no mundo com rosto visível, mil pares de sapatos levantando o pó, turistas de um país bárbaro, ameno, nosso.
Está bonita a festa, pá. E depois? Em cada rosto um amigo? Em cada esquina igualdade?
Depois não vão ser rosas, meu senhor, nem cravos, nem pães para os pobrezinhos. Os governantes a caminho do exílio, os do costume já a urdir novas ciladas, não vamos direitos ao paraíso. O sonho, obra humana que os deuses desdenham, abre o caminho mas não chega. O território, elevado a ruína monumental e protegida, também não.
Um lugar onde não se troquem
palavras por gráficos nem pessoas por juros. Onde caibamos muitos, sem medo de
serem mais e mais diferentes. Onde as fronteiras estejam tão ao sul que
desapareçam do horizonte, língua viva, sotaques variados da liberdade livre. Cinquenta anos depois e depois de depois, o tempo retomado.
#abril #25abril #vinteecincodeabril
O AMOR EM VISITA
Na capa de O Amor em Visita, desenhei a tinta azul, por cima das letras T e O originais da palavra CONTRAPONTO (a editora do Luiz Pacheco) outro T e outro O. Talvez tenha considerado essa uma forma de desenhar palavras do livro, sem as reescrever. O livro gravou-se em mim, eu gravei o livro. Quando um dia, ingenuamente, o mostrei ao Leitor, ouvi o que dispensava ter ouvido e gravado nesta memória que me enlouquece
Isto não é coisa que se faça a um livro. Os livros são sagrados.
Sagrados uma ova, Leitor. Os teus dedos são plumas, os meus nasceram revoltosos, nunca se deixarão abençoar nem pelo Altíssimo Criador das Letras Vivas.
O Amor em Visita nasceu no ano em que eu nasci. Crescemos juntos, eu para o amar, ele para ser amado.
Magia, proclamei. Herberto concordou. Disse
É isso, miúda, e que se lixe quem não perceba esse fogo invisível a iluminar as feridas.
Depois chamou As Magias a um dos seus livros de versões: mudança para a língua portuguesa de textos vindos de outros tempos, outras paragens, viagens entre modos de ser e de dizer.
caçadeiras revólveres drones palavras mísseis fisgas pedras obuses facas palavras espadas bombas fundas arpões gás navalhas metralhadoras canhões catapultas bastões granadas
palavras
Leitor é quem está disposto a ser perturbado - alterado - pela leitura de um texto. Partir da sua literalidade e procurar outras leituras, de si mesmo e do mundo.
O leitor enquanto consumidor de livros não me interessa. Não estou no ramo do comércio de livros.
Para a sedução não instantânea de leitores são precisos sedutores competentes, que amem a leitura e conheçam os alvos da sedução.
O JACKPOTER
Certa vez a um mendigo saiu um jackpot, o que não seria extraordinário
se ele não teimasse em repartir o prémio com todos os outros mendigos,
conhecidos e desconhecidos. Na cidade europeia onde morava deixou de haver
miseráveis e ainda sobrou dinheiro para se tornarem investidores e milionários,
movimento que alastrou ao país inteiro, levando à queda do governo e à
transformação dos ministros em empregados da única empresa nacional. Em breve,
graças à persistência do primeiro sortudo, a empresa galgou fronteiras,
engolindo as tecnológicas, as energéticas e as restantes. A paz e a justiça
mundial foram garantidas em poucos meses, pois todo o globo passou a ser
composto por bilionários em festa permanente. Uns anos depois, porém, já
ninguém recordava a origem do dinheiro, nem para que é que servia, nem o que
ambicionar. O primeiro cadáver foi encontrado, sem cabeça, no riacho que
subsistia sobre a ruína do oceano Ártico e outros se seguiram, até não restar
vivalma para os incinerar. A terra agradeceu a oferenda e renovou-se, novas
plantas e vastos oceanos tomaram o seu lugar no planeta. A criatura que viajou,
de norte para sul e de sul para norte, transportando incansavelmente as
cabeças, de modo a que jamais se reunissem à viscosidade dos corpos, não era
homem nem mulher, mas uma espécie sucessora, a quem ainda faltavam muitos
séculos para encontrar um jackpot.
A FAMÍLIA
No mundo havia uma vasta planície dourada pelas espigas. A vastidão dividia-se em pedaços, alguns extensões que olhos humanos jamais abarcariam, outros retângulos do tamanho de um pequeno campo de futebol, onde miúdos se entretinham em fintas, as balizas dois cestos para apanhar o grão. Num desses retângulos, situada a sudoeste, havia uma casa, onde moravam a avó, o avô, a mãe, o pai e três crianças. O primeiro a desaparecer foi o pai, chamado pelo estrondo de arma longínqua. O segundo foi o filho mais novo, entretido na brincadeira de imitar o pai. O terceiro foi o avô, que ao enterrar o neto caiu no buraco, ao lado dele. A quarta foi a filha do meio, violada por um bando de inimigos que desceram do céu, dentro de um cavalo de metal. A quinta foi a avó, com um tiro na nuca, quando tentava tapar com o seu corpo o corpo esfarrapado da neta. A sexta desapareceu porque já não tinha nome.
Como na canção de Laurie Anderson
Over and over
you're falling/And then catching yourself from falling/And tihs is how you can
be walking /and falling/At the same time.
Na canção, alguém é procurado e nunca encontrado. Por isso quem procura, continua a andar
e a cair
a andar e a cair ao mesmo tempo.
Assim me sinto, metaforicamente sentada no sofá, pois o movimento é o único lugar a que pertenço.
E vou caindo, com estrondo, quase sempre, sem saber colocar o corpo de modo a que se magoe como um bailarino, não como bêbedo. Olho para a esquerda e sigo os nomes nas badanas dos livros amontoados a um canto do sofá. Empurram-me para o canto oposto e daí para o chão, de onde me chamam. Ocupam todo o espaço, até o que eu ocupo.
#laurieanderson
A paz não encontro, a guerra não começo.
Tivesse eu vivido em Höst no século XIV e a esta inquietação podia chamar vida.
Existe um conflito. Sentes a necessidade de ser perfeito, pelo menos ao moveres-te.
Como se a pele dele sentisse a dor de morrer um pouco.
Por fim e desajeitadamente, liga ao David.
Sou eu, o Karl. Tenho pensado em ti ultimamente. Sabes, às vezes vou a Paris. Foi o que acabei de dizer. Ouve, eu ligo-te. Prometes-me? Está bem, então eu ligo.
Com a máscara de um urso toda a gente pode adormecer como um urso. Hibernar, como ele. Esperar que chegue o verão para ir a Paris.
Karl põe a máscara e adormece.
Nós corremos, enquanto os outros fazem o que ele faz.
O que ele faz é abraçar, dançando, movendo o corpo como se numa discoteca ou num ritual antiquíssimo, ao ritmo dos tambores.
Brevemente, o piano. Logo a seguir ele cai e ela diz vamos fazer o barco. Estão prontos?
O barco é um pano que precisa de vento, o vento está nos passos que dançam, agora ao som de um piano que não desistiu.
Sentia o cheiro dele nos corredores vazios, continua. A obsessão é passageira, mas quando se sabe já a duração fez o seu trabalho.
Éramos miúdos a brincar no palco. A música vinha dos risos, até que um deles caiu e todos tiveram de cair à volta dele, para se protegerem.
Quando saíram, chovia. Era o aniversário de alguém.
Fique mais um pouco, beba mais um pouco. Se sair, eu saio consigo.

Tens de ser tu próprio a estar lá.
A cabeça, o queixo, a língua. Anda em frente. Treme. Salta salta. Isso. Fecha Anda, não caias, não olhes para trás, avança. Olha para a frente. Isso, isso. Não pares.
Tens de ser tu. Às vezes só olhos, às vezes só peito.
(Não há silêncio, o papel amarrota-se, talvez.).
Nestas fotografias ia para a frente e para trás.
Mandavam-no. Ele obedecia. Tentava ser essencial, não é preciso mais.
(a música, as vozes que não gritam, cantam em conjunto).
Sobem à vez. Ela, ele, os dois. A seguir descem, caem, ajoelham-se, inclinam-se para o chão, embatem um no outro, ímanes, respirações que se agridem mutuamente.
Duas formas de existir. Seguem, sem remédio.
(não eram papéis amarrotados, eram folhas de um livro, a passar, umas a seguir às outras, a história, uma história da vida humana.)
Dúvidas. Várias e sucessivas dúvidas. O poder, o peso, uma espécie de selvajaria interior. Fascinante, diz ela.
Desliza como uma planta no rio. Ri. Não é bela, assim? Insiste.
Continuam o combate, rés ao chão. Anos loucos, música louca em fundo. Dançam loucamente, os corpos, um feminino – um corpo -, outro masculino – outro corpo.
TODOS OS NOMES - JOSÉ SARAMAGO (excerto)
Todos os nomes é a história de um homem diante de si mesmo e do espaço opressor. Um homem que se vê ao espelho e observa: «Este não pareço eu, pensou, e provavelmente nunca o havia sido tanto». A identidade e a finitude são o trilho da demanda deste homem que se põe à prova, em actos arrojados, para descobrir, com um pastor, que a morte se expande ao redor da vida com uma persistência impossível de vencer, excepto pelo que cada um ousar enquanto vivo. Não que haja falta de sinais desse desfecho no universo em que se move – o da Conservatória Geral do Registo Civil, cuja descrição detalhada abre o romance, o escritor-Dédalo a preparar a descida ao mundo subterrâneo do Sr. José. Mas só quando aborda o mundo exterior o auxiliar de escrita começa a entender o interior. Imagina a leitora que também Saramago aprende com este auxiliar, que para tal foi criado, personagem que guia e ensina o escritor aprendiz.
Na sua busca insensata pela mulher do verbete, achado por acaso, há – imagina a leitora - um Quixote fatigado, cuja audácia está condenada à miséria e à ferida. O pensamento exige dele uma força que o corpo não comporta, frágil que é, exposto à doença, aos impulsos menos nobres que os planeados e ao definhamento.
Mas que razão o levou a encetar essa demanda?
Não há uma razão. A causalidade é quase um acidente supérfluo ao longo da narrativa. Assistimos à sequência de movimentos cuja lógica se confina entre o anterior e o seguinte, mas que, no seu conjunto, não constituem um nexo fechado, a busca é o próprio objectivo, é infinita.
«Em rigor não tomamos decisões, são as decisões que nos tomam a nós», reflecte o narrador, ou a voz autoral de Saramago.
Até ao momento da infracção, o da «iluminação que iria transformar a sua vida», aquele em que abriu pela primeira vez a porta proibida (a que separa a sua casa da Conservatória Geral), o Senhor José coleccionava recortes de pessoas famosas e vivia tranquilo no seu lugar anónimo, respeitador da ordem da qual a Conservatória é o repositório e o garante.
A leitora não consegue impedir-se de associar esta porta à porta da Lei, de O Processo. Nessa parábola, a porta estava aberta mas o guarda diz ao homem do campo que é proibido entrar. O homem espera então, pacientemente, que o guarda lhe autorize a entrada. Quando, minguado e moribundo, volta a interrogar o guarda, este revela-lhe, como um segredo ao ouvido: «Aqui ninguém mais, senão tu, podia entrar, porque só para ti era feita esta porta. Agora vou-me embora e fecho-a».
São ambas portas para uma ordem burocrática – a da justiça, a da arrumação e catálogo de todos os vivos e de todos os mortos – e ambas permanecem interditas durante anos apenas porque essa interdição foi interiorizada por quem espera aceder-lhe.
Aqui acabam as similitudes. Saramago dá uma feição totalmente nova à parábola, quer aprofundando o carácter subjectivo da interdição quer, sobretudo, movimentando a sua personagem no sentido transgressor.
Transgredir e aproximar-se do perigo e das suas consequências passa a ser o mote e o próprio sentido da vida do Sr. José. Na busca pela mulher do verbete, é um outro Sr. José que se revela. Da mulher pouco mais saberá, a não ser que foi capaz da única forma de ludibriar a morte, que é antecipá-la. Acerca de si ficará a conhecer mais do que conhecera em toda a sua vida, e mesmo assim tão pouco.
#saramago #todososnomes #autoresportugueses #nobelliteratura #nobelliteraturaportugal
NÃO HÁ PALAVRAS OU NÃO HÁ DIREITO?
É quando dizemos «não há palavras» que elas são necessárias.
O indizível procura expressões num precipício sem amparo ou em gritos audíveis, capazes de mover montanhas.
Chegou a hora desse fundo sem luz onde as palavras parecem nascer como se nunca pensadas.
«Os nossos irmãos estão a ser dizimados», dizia António, meu pai atento, enquanto viajava pelo mundo. Era na África do Sul? No Vietnam? No Biafra? Em Moçambique? No Sudão? Na Ucrânia? Em Gaza?
Assistimos ao massacre em directo.
Assistimos ao colapso do direito, sem perceber como chegámos à ruína e estamos prestes a caminhar por entre escombros.
Nem falo já de justiça, palavra sacrificada à voragem dos factos transitórios, trôpega imagem de uma ideia irmã da beleza. Falo de um edifício-abrigo, última instância ética de uma convivência entre humanos que se dizem iguais.
Que é do poder coercitivo do direito internacional, exíguo, é certo, mas, neste momento histórico, inexistente?
Que é feito da simples enunciação do direito internacional humanitário?
Ou a ONU se dá por extinta ou existam mecanismos que a refundem.
A história olha para nós de boca aberta. Espanto, exigência, clamor secreto?
À história não faltarão palavras.
#gaza #genoocidio #ceasefirenow
soneto vegetal
Não sei se viva ou sinta simplesmente
se sentir é questão ou aventura
se vivesse num quadro era pintura
se me sentisse cor seria gente
Irritada planta, mulher finda
quantos passos daria? Vão caminho.
Sentada num sofá de giz e espinho
invejo a flor consigo desavinda
Não sabes ao que vens? pergunta o dia,
pergunta o tempo fasto, duvidoso.
Cada segundo canta uma alegria.
A voz ao alto, então, porque não ouso?
Porque sentir é rouca sinfonia?
Porque habito no vento silencioso?
DAVID
Uma escada branca dá para o quarto da criança.
Na telefonia passa uma canção de Natal, uma voz que não reconheço, um bom trinado.
A criança está sentada na cama a olhar para a casa de brincar, com cortinas, toda vermelha, um palco.
Pretende habitar aquela casa, encantar a mãe, fazê-la rir.
Cresceu assim, muito loiro e sonhador, o David.
Quando for grande, começavam sempre as suas histórias, aquelas com que pretendia fazer a mãe sorrir. Quando for grande, continuou a cantar, mesmo já crescido, o rapaz mais bonito da cidade. A mãe sorriu, sim, ele conseguia surpreendê-la nos momentos mais difíceis, com as suas brincadeiras, os seus disfarces de bailarina e de astronauta, um balde na cabeça. Com a sua voz, que era a voz quebrada do anjo Gabriel, nada que se parecesse com a do cantor do Natal anos atrás, na telefonia.
Quando encontrou a rapariga que gargalhava com as suas peripécias, casou com ela. Ela ajudou-o com a guitarra, ele pegou no microfone. Quando for grande, cantou e pantominou com tal graciosidade que em breve cantava nas telefonias e nas televisões do mundo.
A mãe morreu.
O cão morreu.
As árvores secaram com o outono, eram braços moribundos erguidos ao céu.
A mulher tornou-se bailarina e afastou-se, a dançar, para um país distante.
David já não podia ser David. A voz, a música, a casa encarnada, continuavam ali, ele era outro. Fechado na sua nave espacial, subiu ao céu, não como Gabriel, mas como Tom. O mundo ficou mais estarrecido que encantado. Desviou os olhos. Ninguém gosta de olhar a solidão do outro, bem se percebe porquê.
Subiu e desceu sozinho, ninguém o ajudou. A não ser as árvores, já me esquecia das árvores. Aos braços erguidos tinha chegado a primavera, ficaram macios, o chão também.
Quando eu for grande, voltou a cantar, até perceber que tinha crescido e tinha de arranjar uma guitarra mais pesada. Guitarra, teclas, microfone, o cabelo em caracóis sobre os ombros, tudo ficou mais pesado e mais rebelde.
A quem iria desvanecer agora? À mãe, às namoradas, ao mundo? Não queria desvanecer ninguém. Só perceber por que razão tinha crescido. Encontrar-se consigo, não num momento, mas no tempo que ainda estava para vir. Viria?
O teatrinho de fantoches, a telefonia, o Natal, o anjo Gabriel, tinham desaparecido. Evaporado. Quando foi ver deles, já não estavam lá.
Não havia outro remédio senão nascer outra vez. Nascer para si próprio, as luzes e a cor vermelha, tudo dentro dele, tudo a brilhar em torno da sua voz.
#davidbowie #letsdance
MRS. DALLOWAY (Virginia Woolf) e ULISSES (James Joyce): um diálogo?
Existirá um diálogo entre Mrs. Dalloway e Ulisses? Um diálogo de surdos, talvez, um contraponto que Virginia quis opor, talvez. Não uma improvisação sobre uma obra anterior, mas, porventura, uma forma de reflectir sobre a reacção possível à estranheza que Ulisses (publicado em 1920) representara. Uma forma feminina e londrina, em que a sobriedade não constitui obstáculo à criatividade nem à profundidade da corrente de consciência, de responder à exuberância masculina, rude e irlandesa, de Joyce. Ou nada disto.
Virginia teve acesso ao manuscrito de Ulisses antes da sua publicação, pois foi proposto à Hogarth Press, editora que fundara com o marido, Leonard Woolf. Apesar da recusa, justificada por motivos técnicos relacionados com a duração da impressão, os primeiros quatro capítulos foram lidos e reconhecida a sua natureza revolucionária. Na entrada de 16 de Agostro de 1922 do seu Diário, Virginia dá conta de que leu duzentas páginas de Ulisses, elogiando os «2 ou 3» primeiros capítulos e criticando severamente os seguintes. No mesmo dia fala sobre a escrita de Mrs. Dalloway e de como não gosta da sensação de estar a escrevê-lo com demasiada rapidez.
A ligação entre as duas obras parece evidente desde as primeiras páginas de Mrs. Dalloway. Clarissa mergulha nas ruas de Londres na manhã do dia em que, à noite, dará a sua festa. «Nos olhos das pessoas, no bulício, na pressa e na lentidão; no bramido e no tumulto da multidão; nas carruagens, nos automóveis, nas diligências, nas carrinhas, no passo arrastado ou vacilante dos homens-sanduíche; nas fanfarras e nos realejos; no esplendor, nos tinidos e no estranho, estridente cantar de um qualquer aeroplano lá no alto, em tudo isso se encontrava aquilo que ela amava; a vida; Londres; aquele momento de Junho.
Pois estava-se em meados de Junho».
Meados de Junho, um só dia contado desde a manhã até à noite. Em Ulisses é contado o dia 16 de Junho de Leopold Bloom, o Bloomsday.
Mas que contraste entre os dois. Não só a personagem principal é uma mulher, com os seus pensamentos de dona-de-casa semelhantes a todas as outras («e agora, já não era capaz de dizer a respeito de Peter, a respeito de si mesma, eu sou isto ou eu sou aquilo»), como deambula por uma Londres cujas características cosmopolitas Virginia faz questão de acentuar, o Big Ben a bater As Horas, cada hora.
O diálogo/duelo parece ter sido procurado pela autora. A primeira frase do livro já traz implícita a festa que ocorrerá nessa mesma noite. Enquanto o título do romance do Joyce remete para o herói da Odisseia, com o qual Bloom contrasta, o do romance de Virginia assume a perda de identidade da personagem principal - inerente à condição da mulher - ao tomar o apelido do marido: «sendo apenas Mrs. Dallwoay; já nem sequer Clarissa; sendo tão-só Mrs. Richard Dalloay.»
Joyce e Virginia, os dois maiores escritores do modernismo da época entre guerras, nasceram e morreram no mesmo ano. Mas os pontos de vista de ambos, ou os olhares com que os vemos um século depois, são frequentemente assinalados como erros de paralaxe.
#virginawoolf #jamesjoyce #mrsdallwoay #ulisses #bloom #clarissa
as mãos indecifráveis
Não conhecem, os homens, o sabor sereno da audácia.
Do medo apenas sabem a fúria de avançar esmagando a terra, perdendo a lucidez.
Usam as armas para esconder as mãos nuas, as mãos indecifráveis voando sobre o precipício. As armas são as arestas dos penhascos que constroem para terem o que agarrar, em desespero, antes da queda.
Possam as tuas mãos proteger-te das ideias letais, do medo disfarçado, do engano imortal, da fuga para o vazio. Da falha que induz a crueldade.
Ergueu-se a guerra sobre a tua beleza
coroa de rubis e ervas venenosas
como podia ter-se erguido sobre
uma palavra
uma ideia lisa
um punhado de pedras
Não tendo os homens pretextos ingénuos para a vida,
fabricam-nos, engenhosamente, para a morte.
Derramam as sementes com o seu próprio sangue,
inebriados pelo cheiro misterioso
do sangue feminino.
Recorrem a armas pontiagudas para criar
o seu próprio mênstruo
o incêndio possível.
Não feches as janelas
não cubras os espelhos
com as tuas lágrimas
não os embacies
com a tua dor.
Não queiras, sobre a pele,
nem lírios nem panos
mergulhados em tinta púrpura.
Não se mascare o tempo
com a tua cabeleira enlouquecida.
Os anos e os heróis verão a história
com olhos decepados
Nos teus olhos há uma luz a iniciar-se
todos os dias.
O melhor da água é o espelho/verde. A espuma mansa/ a pista de seda/que os olhos alcançam//Melhor é a dança das rosas/despertas ao sol. E a esperança/de ser água e correr por dentro/de todos os sonhos - António Monginho
#antoniomonginho #autoresportugueses #poesiaportuguesa
agora
chegar aqui
deslizando para a velhice
as décadas passadas
sem nunca ter conhecido uma pessoa
realmente má
sem nunca ter conhecido uma pessoa
realmente excepcional
sem nunca ter conhecido uma pessoa
realmente boa
deslizando para a velhice
as décadas passadas
o pior são as manhãs.
#bukowski #americanwriters
luz quente
sozinho
esta noite
aqui em casa,
sozinho com
6 gatos
que me dizem
sem
esforço
tudo o que
há
para saber
DOIS POEMAS DE CHARLES BUKOWSKI - TRADUÇÃO
MÃE
Ardem no chão as folhas. Ardem nas folhas as nervuras simétricas das tuas duas mãos. Ardem nas tuas mãos os aromas propagados pela casa ardente: a tampa da panela entreaberta, o vapor, os cheiros milenares da terra fértil. Ardem no caminho os passos mínimos entre o sonho e a casa. A um canto, no chão, protegida pelas paredes ardentes do teu gigante corpo, adormeci.
****
- Embebida no teu choro, o meu corpo miúdo a servir-te de berço, os meus olhos esvaindo-se no teu sangue salgado, lágrimas e chagas nas pagelas que tombavam do missal. Queria expulsar-te de mim, com as dores que tiveste quando me deste à luz, ou antes, à noite, visto ser madrugada e mundo escuro.
- Contava-as eu, as noites. Contava sem saber que os números são infinitos. Que ao contacto com a ardósia ou com o caderno, a ponta do giz ou a do lápis enegreciam, partiam-se, esfrangalhavam-se nas baldosas do chão.
****
Tive uma filha e tive uma casa. A casa era arrendada, a filha saiu, com as minhas dores, da barriga do pai.
VIAJAR
Abrir o mapa e escolher a cidade. Saber que a escrita e a leitura não serão as mesmas conforme o lugar onde acontecem. Não me importar com isso, pelo contrário. Deixar entrar a língua, a entoação, a forma de viver em conjunto.
Lembrar os grupos de meninas muito maquilhadas de Dublin e as que entram num bar onde os géneros quase não se misturam em Inverness. Os grupos mistos num café a abarrotar em Estocolmo e nas praças e ruas de Oslo. As mulheres de minissaia em Istambul e as mulheres de abaia em Istambul.
Os cabeleireiros de cave em Budapeste, uma cabeleireira, uma cliente, nenhuma vaga. O cabeleireiro ultramoderno em Varsóvia e o único que encontrei, caríssimo e sem marcações, em Riga.
Esquecer que existem praças enormes em Nápoles e transitar pelas ruelas, reparando no nome das diversas vias, na escuridão do labirinto, da qual inopinadamente ressaltam brilhos no peixe acabado de pescar e na vozearia própria dos mercados de rua, que evoca a do mercado de rua de Buenos Aires, com a roupa interior exposta em gigantescos mostruários e a do mercadinho do Mindelo, onde as crianças tomam biberão atrás dos sacos de batatas.
A venda ambulante, nas cidades pobres, os carrinhos de hot-dogs em Nova Iorque e as filas para o único carrinho em Reikjawick, a água de coco em Salvador e a água de cana em Santo Antão.
Abrir o mapa. Seguir um percurso com o lápis. A mala cheia de roupa, esvaziada, a regressar cheia de livros.
Piso as ruas de Havana e páro a ouvir os músicos, a percussão, o violino, os sopros, a música callejera dirigida à alegria dos turistas, às moedas com que põem na mesa dos filhos o arroz com pedacinhos de carne, se o dia tiver rendido, escuto
De Alto Cedro voy para Marcané/Llego a Cueto, voy para Mayari
E a dois passos páro e oiço
Tiene lagrimas neras, tiene lagrimas negras/Como mi vida
Se me embrenhar pelas ruelas, esquecendo La boca, escuto ainda
La entrañable transparência/De tu querida presencia/Comandante Che Guevara
Ouço-a na voz dos taxistas e ouço agora a tua voz, pai, trautear o último verso, o fumo da cigarrilha a misturar-se com o do havano antigo, presente, hasta siempre, e ouço-te dizer, entre lágrimas, que não eram essas as vozes que ouvias, mas os murmúrios dos escravos atravessando os séculos, remando, colhendo fruta e algodão e espigas, descendo às minas e à lama dos rios e às entranhas fedorentas das cidades, rodando à volta dos engenhos e das arenas onde leões de toda a espécie os devoram, esses gritos em chamas, essas vozes em coro quando à noite, entre estrelas e pontas de cigarros, espreitam através das grades, mas essa voz, na língua universal dos esquecidos, rimaria com a presença, o havano, o ritmo, a audácia do guerrilheiro. Logo tu, pai, para quem nem a cantiga nem a caneta nem a máquina de escrever eram armas de vencedor.
as tristes rotas
Gostava de ter prosseguido viagem evitando a rota do Mar Negro, amaldiçoada pelo deus da guerra, pelos homens que o inventaram. O périplo do Ponto Euxino, ligando ao Atlântico através do Mediterrâneo e do Egeu, as tristes rotas. Viajei, sim, até à Grécia amada, território mil vezes milagroso, outras mil sacrificado. Os murmúrios, os ais, os últimos gritos dos afogados, a velha peregrinação sem fim à vista. À beira do Egeu vi as crianças amontoarem-se na praia, seminuas, doentes, órfãs, exaustas, empurrando pedras como se fossem carros e embalando irmãos como se fossem filhos. Estendendo as mãos minúsculas entre grades por um prato de massa com larvas sufocadas. Na terra onde o velho Homero, cego, mas não surdo, escondido sob a forma de fantasma plural, narrou os feitos, as ciladas, as arenas marítimas e os mastros letais, vi mães sozinhas balançando ao ritmo das ondas e do choro dos filhos, vi raparigas dançarem, ondulantes, a música altíssima para derrotar o som das explosões que lhes derrubaram os quartos e as escolas.
Shukran
Diziam as raparigas, quando as maçãs e as laranjas lhes foram oferecidas
'ant fayiqat aljamal
Agradeciam.
E eu que vi tudo contigo, e saltei à corda com as crianças, e lhes ensinei a fabricar pulseiras, a entrançar o cabelo, diz Celeste.
Nos olhos dela, o regato quis reflectir o murmúrio de uma voz nascida para aquietar, nascida do que a terra é quando ninguém a fere. Mas a vontade do regato não conseguia chegar a esses olhos, pregados, com os meus, a uma memória densa, transida de pavor.
E eu que li o que os teus olhos viram e os teus ouvidos ouviram
Diz a Leitora.
E eu que li as palavras com que narraste o visto, o omisso e o desejado.
Diz o Leitor.
E eu que me comovo por tanto teres feito as viagens que eu nunca ousei.
Diz o pai.
E pelo Bósforo, pai, também viajaste entre continentes, a voz do Muezim apelando a uma ressonância que te atrai, apesar de não te dizer nada?
A um visitante, o centro de Buenos Aires parece o contrário de um labirinto. Tal como pareceria ao outro Borges, àquele que caminha pela cidade, talvez já mecanicamente, para olhar o arco de um vestíbulo e o guarda-vento de uma casa. (…) Eu vivo, deixo-me viver, para que Borges possa realizar a sua literatura e isso me justifica (…) Não sei mesmo qual dos dois escreve esta página». (*) «Na verdade, sempre que se me depara uma página em branco sinto que tenho de redescobrir a literatura por mim.
As dimensões de Buenos Aires são excessivas, intensamente geométricas. As linhas rectas e precisas. Pode-se ir de uma quadra a outra sem mapa e sem risco, palmilhando vários quilómetros. Dir-se-ia mais fácil encontrar La Maja, acompanhada ou não por Cortázar, (*) do que um emaranhado de vias a formar um labirinto. Mas foi ao sair de uma livraria periférica, na qual esqueci o cartão de crédito, em busca da Plaza Cortázar, que me perdi em Buenos Aires.
Enquanto, ao centro, os jovens se posicionam, quatro rapazes e uma rapariga, senti-me de volta ao anfiteatro em Pompeia, o sol a arder num céu onde as nuvens pesavam, o som reproduzindo exactamente as palmas, a voz dos actores, o ruído das barrigas, os dichotes, as máscaras, os falsetes, o Arno ao fundo, as margens a afastaram-se quilómetros, explica a guia, dantes o rio banhava a cidade, depois o rio foi a lava, o vulcão subitamente vivo, três bombas nucleares, ninguém escapou, nem o mais inocente pardal. Ao mesmo tempo, regressava a Epidauro com a minha amiga Emily e a sombra de Orestes, ela a levantar o cabelo e a prendê-lo com ganchos invisíveis, a beber água trazida da fonte de Castália, em Delfos, a dizer que os mistérios circulavam por ali, alheios ao tempo, inventando em permanência as fantasias dos humanos.
Quando recuperei o sentido do lugar que as minhas sandálias pisavam e os meus olhos viam, reparei na mulher que se destacava do grupo, o vestido cor de açafrão cobrindo-a até aos pés descalços, o cabelo louro preso no alto da cabeça. Magra, ainda mais magra do que eu era quando tinha a sua idade, algures na casa dos trinta. Via-a de lado, o perfil esquerdo, o braço esquerdo em movimento como se em vez de actores dirigisse músicos concentrados nos seus instrumentos.
Parecida com a Emily que fotografei debruçada para a fonte de Castália.
AINDA A LITERATURA E O DIREITO: SÁ DE MIRANDA
Sá de
Miranda viveu entre 1481 e 1588. Era utriusque iuris doctor, doutor em
ambos os direitos – direito civil e direito canónico. A ele se deve a
introdução, na língua portuguesa, das formas métricas do soneto e da canção, da
terzarima, da ottavarima, do frottolato, do processo de
polimetria e de várias combinações estróficas. [1]
Um poema:
Comigo me desavim,
Sou posto em todo perigo;
Não posso viver comigo
Nem posso fugir de mim.
Com dor da gente fugia,
Antes que esta assim crescesse;
Agora já fugiria
De mim, se de mim pudesse.
Que meio espero ou que fim
Do vão trabalho que sigo,
Pois que trago a mim comigo
Tamanho imigo de mim?
Este poema espelha a contradição do «eu» que fala, os dois lados de uma contenda que não existe só no exterior, mas começa – e talvez acabe – no próprio pensamento. Porque não ligá-lo à função judicial, em que o «eu» decidente se depara com dois lados opostos e se divide a si mesmo para poder aferir qual deles se aproxima mais do justo? Ou à função do Ministério Público, não só enquanto defensor do princípio da legalidade mas também quando, representando os interesses difusos ou um em particular, deve escutar em si a voz da contradição, para escolher o como, o quando, o até onde.
Segundo a professora Rita Marnoto, no livro intitulado As Palavras Justas _, as novas formas poéticas daquela época, introduzidas por ele em Portugal, foram protagonizadas na literatura italiana por escritores juristas. A estrutura precisa do soneto, a invenção no registo da glosa, muito terão ficado a dever à forma como se estudava e aplicava o direito. Por exemplo, a enunciação de uma frase perfeita, como tema dado a interpretar, a desenvolver e mesmo a contradizer, para afinação do pensamento jurídico, estendeu-se a outros temas, dando origem à glosa a partir de um mote.
[1] Rita Marnoto, Francisco Sá de Miranda, «clericus colimbriensis civitatis, utrusque iuris doctor», em As Palavras Justas, Centro de Literatura Portuguesa – Faculdade de Letras de Coimbra.
#sademiranda #literaturaedireito #literaturaportuguesa #poetasportugueses #palavrasjustas